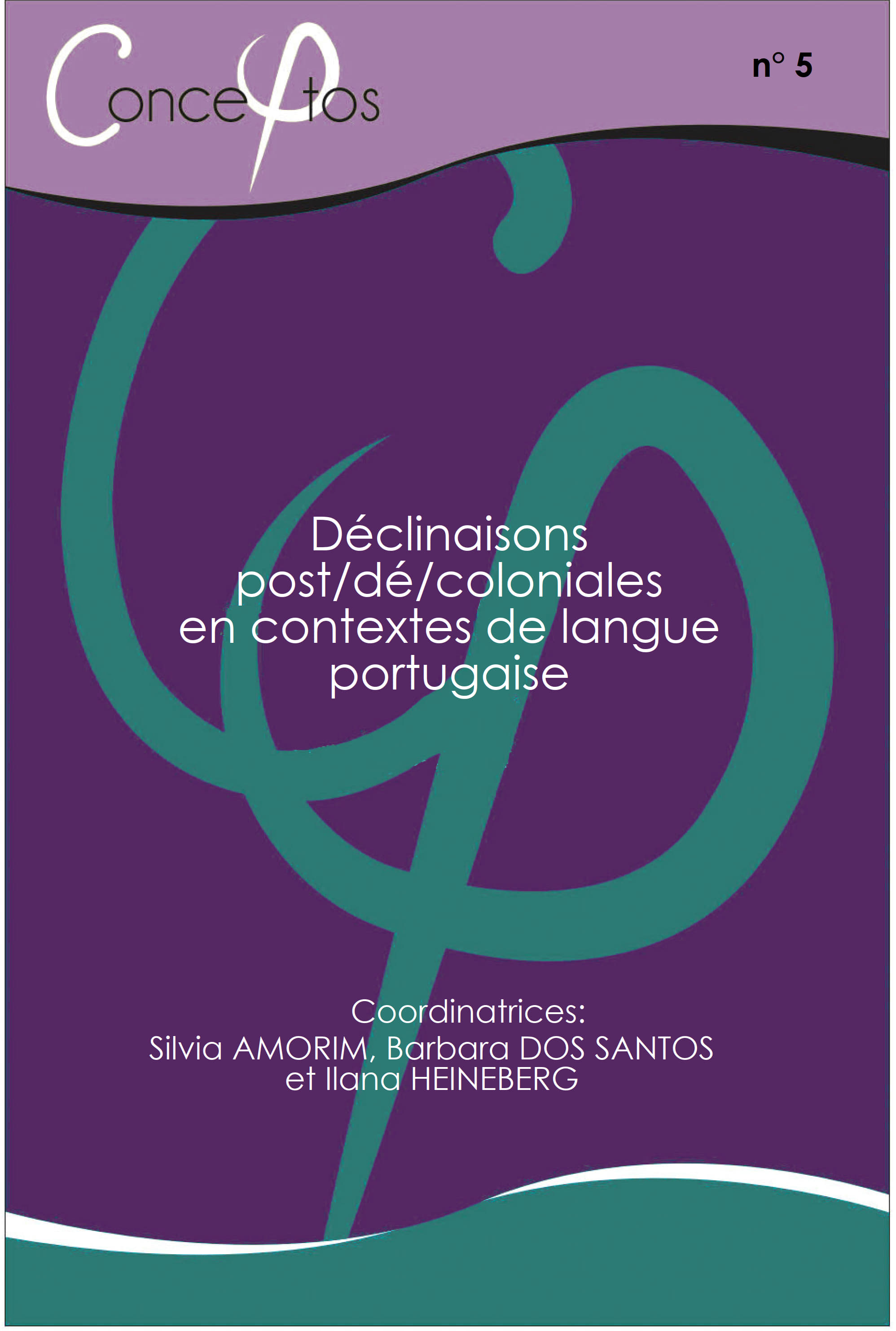A transnacionalidade krausziana e a erupção das “memórias subterrâneas” da diáspora judaica
Introdução
Desterro. Memórias em ruínas (2011) é uma “enquete sobre a ascendência do sujeito” (Viart, 2009, p. 95), o autor-narrador autodiegético Luis S. Krausz, neto de judeus-austríacos emigrados para São Paulo. O peso de uma “pós-memória” (Hirsch, 1992) da “era liberal de Viena” e, simultaneamente, a impossibilidade de pertencimento pleno ao grupo identitário de filiação marcam fortemente a narrativa. No entanto, a obra revela-se ser, sobretudo, um percurso de ressignificação de uma “comunidade imaginada” (Anderson, 1996) herdada, que se ergue sobre o silêncio de uma identidade judaica cindida e o trauma do holocausto. No encontro dos “espaços transnacionais” (Pries, 2001) e de seus atores, através das deambulações mnemônicas do narrador pelos bairros de São Paulo e pelo município de Campos do Jordão, colônia de férias germanófila da elite paulistana, ele desconstrói o mito atávico familiar, analisando-o à luz da sua relação com o mito nacional brasileiro.
Ludger Pries define um “espaço transnacional” como um conjunto de “configurações de práticas sociais, artefatos e sistemas de símbolos que abrangem diferentes espaços geográficos em pelo menos dois estados-nação, sem constituir um novo Estado-nação ’desterritorializado’” (Pries, 2001, p. 18). Peggy Levitt e Nina G. Schiller preferem o termo de inspiração bourdieusiana “campo social transnacional”, alargando, no entanto, a relação poder estatal/sociedade/território: “propondo uma visão da sociedade e da filiação social com base em um conceito de campo social que distingue entre modos de ser e modos de pertencer” (Levitt e Schiller, 2004, p. 1008). Conectando o país de exílio à terra natal, esses campos sociais mostram, segundo essas autoras que “a assimilação e os laços transnacionais duradouros não são incompatíveis nem opostos binários” (Levitt e Schiller, 2004, p. 1002). Alguns imigrantes judeus ou germanófonos retratados no livro revelam estratégias de integração social reprodutoras do pensamento colonialista arraigado na sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que são atores ativos dessas redes transnacionais. Assim, o “transnacionalismo”, como área epistemológica, propõe, dentro dos estudos pós-coloniais, um “novo paradigma que rejeita a noção, durante muito tempo sustentada, de que a sociedade e o Estado-Nação são uma entidade única” (Levitt e Schiller, 2004, p. 1003). O “transnacionalismo” permite ainda incluir as diásporas e as imigrações provocadas por conflitos sociais e questões econômicas dentro das reflexões pós-coloniais. O conceito de “nação” é, assim, concebido de forma mais ampla, além da relação exclusiva colônia/metrópole, acolhendo outros povos e histórias que se somam à história de uma nação.
Dentro do campo epistemológico do “transnacionalismo”, os estudos sobre as dinâmicas urbanas ocupam um lugar central, uma vez que a cidade está “no centro das sinergias e tensões da construção mútua do local, do nacional e do global” (Schiller, 2012, p. 23). Assim, São Paulo encarna na obra krausziana o conflito do protagonista: por um lado, o peso da tradição transnacional e transgeracional enquanto descendente de imigrantes judeus-austríacos; por outro, o apelo assimilacionista e progressista da sociedade brasileira e, mais especificamente, paulistana. Ainda que essa cidade sirva de modelo do Estado-Nação, representando o mito nacional brasileiro como sociedade progressista multicultural, ela é também um “território migratório construído pelas práticas e subjetividades migrantes, ao mesmo tempo aberto e multi-situado” que “se sobrepõe e se opõe à territorialidade fechada e contínua do Estado” (Lacroix, 2018, p. 35). Nesse sentido, Luis A. Brandão afirma que “nas metrópoles, os limites da nação se projetam: eles se reproduzem, se confrontam, se reconfiguram. De forma agônica, os imaginários nacionais e urbanos se interpenetram.” (Brandão, 2005, p. 43). Ainda que a cidade seja tomada como microcosmos da nação, lugar de representação do poder econômico e político hegemônico, os seus “campos sociais transnacionais” mostram os limites do controle do poder estatal dentro do seu próprio território.
O pano de fundo histórico da obra estende-se por quase um século: do período de desenvolvimento urbano e das grandes vagas migratórias da São Paulo do começo do século XX, quando os avós chegaram ao Brasil, até a virada do milênio, com a explosão demográfica, a urbanização caótica e a especulação imobiliária na cidade. São Paulo ergue-se, assim, como personagem na obra krausziana, crescendo e transformando-se tal qual corpo vivo, dotado de história e de personalidade: “aquele ser sobrenatural de corpo perfurado pelos edifícios, que se alastra pelos anos – o Behemot, os Titãs, ou a visão do profeta Ezequiel […] a Merkavá1” (Krausz, 2011, p. 10). Ela é aqui retratada como uma figura colossal, monstruosa, cuja força híbrida simultaneamente sagrada e profana é constituída por uma somatória de mitologias acumuladas. As redes transnacionais dessa cidade são como tentáculos que trazem de volta os fantasmas drüben (“do outro lado”, “na outra margem”, em português): “em frente à padaria a polícia capturara Franz Wagner, carrasco de algum campo de extermínio” (Krausz, 2011, p. 78). E Campos do Jordão, a opulenta colônia alpina paulistana, a “suíça brasileira”, também serve de palco aos atores dessas redes transnacionais, sejam elas de cariz social, econômico, religioso ou criminoso.
Não nos parece que o termo “desterro” no título se refira unicamente à experiência de exílio dos avós e bisavós do autor-narrador autodiegético, exilados no Brasil. E nem à perda dessa tradição herdada, face ao apelo assimilacionista e progressista paulistano. Ele remete-nos ao desmoronar da “comunidade imaginada” de Benedict Anderson, à ideia de comunhão que vive no espírito de cada um de seus membros, da “camaradagem profunda, horizontal”, “independentemente das desigualdades e da exploração que podem lá reinar” (Anderson, 1996, p. 21). A “comunidade imaginada” pela família paterna situa-se temporalmente nos finais do século XVIII, quando o território austríaco vivia uma época de paz social e de prosperidade econômica sob o governo do imperador José II (1741-1790) até o início da Primeira Guerra Mundial. Contudo, não faz parte desse imaginário a memória das duas grandes guerras mundiais que impeliram, respectivamente, os avós e, posteriormente, os bisavós paternos, a deixarem o país. Dele também não faz parte a memória dos judeus Ostjuden, do leste europeu, que falam ídiche, marcados fortemente pelo antissemitismo e percebidos como tradicionalistas e não assimiláveis, representados no livro pela família materna do narrador.
Essa “comunidade imaginada” patriarcal, aliada aos detentores do poder econômico da terra de exílio e imune à dor do Holocausto, é transmitida como herança ao neto brasileiro varão. Marianne Hirsch explica que o conceito de “pós-memória se distingue da memória por uma distância geracional e da história por uma profunda conexão pessoal” (Hirsch, 1992, p. 8). Ainda que, num primeiro momento, o narrador tente fazer jus a essa memória, mostrando-se à altura das expectativas do clã; ele percebe, posteriormente, que, não somente nunca conseguirá apagar o estigma da sua brasilidade - “os trópicos animalescos onde eu viera ao mundo” (Krausz, 2011, p. 107), como essa “pós-memória” é permeada de idealizações, de silêncios e de rejeições. Ele passa a interpretá-la não apenas pelo que é verbalizado, mas pelo seu viés sintomático: a relação com os judeus Ostjuden e com os refugiados e foragidos do Holocausto. A cidade de exílio é, portanto, o terreno comum onde as memórias familiares desterradas são reterritorializadas: cotejadas com aquelas de outros judeus e compatriotas exilados e compartilhadas com filhos e netos, que as ressignificam e as reconectam com as de outros atores sociais.
Assim, se as memórias de Krausz não são puramente as suas, pois herdadas de seus antepassados; nem aquelas de seus familiares, pois a voz narrativa que as conta é a do neto paulistano, que as interpreta à luz de suas próprias vivências; elas são na sua plenitude as da cidade de acolhida comum, “ser sobrenatural” criado da junção de três mundos que coabitam, indiferente à compreensão do narrador: “não havia para mim um nexo visível ou mesmo concebível a ligar esses três mundos – o das desérticas narrativas bíblicas, o daquelas figuras monumentais de língua alemã e o das ruas brasileiras e dos ônibus abarrotados” (Krausz, 2011, p. 108). Na obra krausziana, São Paulo possui, portanto, uma “transnacionalidade” (Schiller, 2012) enquanto identidade cultural própria à cidade, constituída pela sinergia de grupos identitários portadores de relações com a terra, com o tempo e com a memória muito distintas.
Os arquétipos do “nem, nem”: os arranha-céus babélicos paulistano e a “casa grande” austríaca
Desterro. Memórias em ruínas pode ser delimitado cronologicamente por dois episódios históricos fundamentais: a partida do avô, Alfred Krausz, de Viena a São Paulo, em razão da crise econômica gerada pela Primeira Guerra Mundial; e o acidente na construção da estação Pinheiros do metrô, em 2007. Essa obra de construção civil é retratada no livro de Krausz como uma alegoria moderna do episódio bíblico de Korach2, em razão de uma gigantesca cratera aberta, arruinando casas e engolindo seres humanos. Como se os homens merecessem agora a punição divina por sua ambição progressista desmesurada:
A atmosfera do bairro estava impregnada pela grande cratera que se abria à beira do rio Pinheiros, para engolir casas, motocicletas, uma perua inteira cheia de operários, como na história bíblica de Korach, e as emanações que vinham daquele grande túmulo aberto contagiavam o bairro todo como se no fundo da cratera brotassem criaturas do lodo, agentes de negócios escusos, portadores de malas pretas que circulavam por trás das fachadas de vidro espelhado dos arranha-céus da avenida das Nações-Unidas. (Krausz, 2011, p. 67)
A Avenida das Nações-Unidas, ícone da modernidade e do poder econômico paulistano, apresenta-se, ironicamente, como símbolo da impossibilidade de comunhão entre os povos. O progresso é, portanto, percebido como elemento desagregador por Krausz, que marca tanto a dinâmica da cidade quanto a sua experiência pessoal, já que no seio da sua própria família a “comunidade imaginada” está cindida entre o lado materno, Ostjuden, percebidos como tradicionalistas, e o paterno, Westjuden, percebidos como progressistas. Nesse sentido, o fator linguístico - os primeiros falando ídiche e os segundos, alemão - é também um indicador de tradição ou modernidade.
O espírito apocalíptico do “desterro” é imagem constante nesta obra krausziana sob diversas formas, escancarando esse vazio, esse silêncio, do qual o mal emerge (“como se no fundo da cratera brotassem criaturas do lodo”). Márcio Seligmann-Silva afirma, no posfácio do livro, que não se trata do “discurso pós-colonial do “entre-lugar”, mas sim do espaço catastrófico do ‘nem, nem’”. De fato, o “entre-lugar” não nos parece definir a posição identitária assumida pelo autor-narrador autodiegético na sua narrativa de filiação, pois o seu livro “canaliza […] décadas de nostalgia, melancolia e trabalho de luto infindo, dor para a qual não há redenção” (Seligmann-Silva, 2011, p. 150).
No entanto, o vazio existencial do narrador é encarnado não apenas na imagem dos arranha-céus da Avenida das Nações-Unidas que se desfaz, expondo o mal guardado em suas entranhas, como na própria imagem arquétipa do casarão familiar austríaco, que revela durante toda a narrativa o seu lado unheimlich, segundo o conceito de Freud “o estranhamente inquietante é, portanto, o que em mim habita” (Freud, 1985, p. 252). Esse vazio existencial pode ser traduzido pela experiência “pós-memorial” do “desterro”, fazendo com que Krausz sinta simbolicamente o que os seus antepassados sentiram ao perder as suas terras e as suas referências culturais.
Se, segundo Seligmann-Silva, para a dor de Krausz não há “paraíso”, ou seja, São Paulo não é a terra prometida, o que há é a “salvação”, que se “encontra no próprio deambular. No ato de rememorar e ressignificar as ruínas” (Seligmann-Silva, 2011, p. 150). Essa errância escreve a história do sujeito e da cidade em relação: “a vida é pensada em função de um parâmetro espacial – os acontecimentos são “passos”, ou seja, iniciativas de deslocamento, referências que configuram uma certa geografia. […] O texto de uma vida além de ser cronológico é topográfico” (Brandão, 2005, p. 36-37). É através da errância desse judeu errante, à procura do enigma de si tão próprio à cultura judaica, que essa tensão dicotômica interna entre manutenção e destruição de um passado atávico, representada pela oposição de valores entre tradição e progresso, revela-se mais clara no seu espírito, ao mesmo tempo em que se relativiza.
Na narrativa errática krausziana, o discurso atávico do intra-muros familiar é revelado e repensado pelo narrador através da vivência das ruas paulistanas, impregnadas de uma “transnacionalidade” própria. Se, primeiramente, Krausz parece errar pelos bairros paulistanos “desorientado”: “eu ando desorientado pelas ruas curvas, ainda silenciosas, ainda verdes, do alto do Sumaré” (Krausz, 2011, p. 12). Num segundo momento, vemos um despertar de consciência sobre o desejo de distanciamento com relação ao lugar original, em busca de um lugar habitável: “A cada hora me afasto mais daquele lugar original, de onde olhávamos com pena e não sem desdém para os que sufocavam, corriam pelas ruas como se fugissem de bombas, atordoados” (Krausz, 2011, p. 13). A errância coloca o sujeito no entre-dois, espaço-temporal do movimento que lhe permite se interrogar sobre a história vivida - os passos passados -, ao mesmo tempo em que reflete sobre o seu futuro, direção a ser tomada.
No entanto, a “transnacionalidade” paulistana não é apresentada por Krausz como um processo anulador do peso das duras divergências passadas ou criador de “um hibridismo cultural” (Hall, 2008), resultado do processo de tradução pelo qual a tradição trazida da terra natal seria lida à luz da lente cultural da terra de exílio. Como estratégia de integração social, a família Krausz reproduz o discurso colonialista brasileiro, autodefinindo-se como “europeus” e opondo-se, assim, não apenas aos “colonizados”, como também “àqueles judeus” “escorraçados”:
houvera uma ordem para cada coisa, uma matriz que moldara a nossa alma […] nós não éramos colonizados como os pobres sem nome nem cor definida, nem éramos como aqueles judeus que tinham sido escorraçados e chegavam à porta de terras estranhas como mendigos. Queríamos acreditar que aquilo faria de nós europeus, europeus em lugares de exílio, como naquele Sumaré onde sonhávamos fundar a nossa colônia de expatriados (Krausz, 2011, p. 47-48)
A ideia de uma matriz europeia no discurso da família Krausz atualiza aquele do governo brasileiro das primeiras décadas do século XX que, calcado em teorias eugenistas, cria uma política de imigração seletiva de forma a promover o branqueamento da população brasileira. A “matriz europeia” refere-se, neste trecho, tal como outrora no discurso político varguista, por uma associação entre etnia e classe social, excluindo da “comunidade imaginada” dos exilados judeus aqueles economicamente desfavorecidos, os Ostjuden que não souberam se tornar “europeus”. O clã judaico-austríaco assume, assim, a posição do carrasco, utilizando-se do velho discurso de intolerância racial e religiosa do qual o seu grupo étnico foi vítima e refugiando-se dos selvagens remanescentes da escravidão na sua “Casa grande” fortificada:
Mas as muralhas e os portões resistem, guardadas por legiões cada vez maiores, como cidades fortificadas da Antiguidade que têm em seu interior abundância de água e de comida, e resistem aos animais selvagens e às hordas de inimigos. A devoção de uns não é a devoção de outros, os deuses falsos e os deuses verdadeiros se confrontam, uns recebendo grandes oferendas de ouro; em galerias de mármore iluminado; outros sacrifícios de galinhas, que amanhecem ensanguentadas nas esquinas, com garrafas de cachaça e charutos, tudo conforme os graus de humanidade (Krausz, 2011, p. 11)
Durante toda a diegese, o narrador descreve esses casarões de familiares judeus austríacos ou de “expatriados” alemães que tal como fortalezas tentam se proteger do caos exterior brasileiro, reproduzindo a “comunidade imaginada” no seu interior. A questão sócio-racial da época colonial ressurge através dessa dicotomia espacial entre o interior e o exterior, criando a imagem simbólica de um neocolonialismo inspirado pela figura ambivalente do grande Kaiser José II.
A efígie do Kaiser José II na casa dos avós paternos condensa o sentimento ambíguo que a família do narrador lhe desperta, entre benevolência e tirania; sentimento este que será alvo da “enquete sobre a ascendência do sujeito”, ao longo de toda a narrativa:
nós contemplávamos uma efígie do Kaiser José II de olhos benevolentes como as da minha avó. Esperávamos que ele, embora esverdeado pelo tempo, ainda pudesse estender sobre nós o manto de sua benevolência […]. Restava só o silêncio do seu olhar resignado: ninguém mais compreendia a sua língua […] nossas línguas se embaralhavam no patuá das ruas e se apegavam ao nosso palato, enquanto os olhos naquela efígie nos fitavam, em muda reprovação (Krausz, 2011, p. 13)
Imperador romano-germânico e arquiduque da Áustria (1765-1790), José II aparece em algumas cenas do livro como ícone em torno do qual se estrutura a “comunidade imaginada” dessa família de judeus austríacos emigrados em solo brasileiro. Esse monarca reformista e humanista aboliu a servidão e a tortura, limitou o poder da Igreja Católica, colocando-a sob a autoridade do Estado, o qual passou a assumir a responsabilidade sobre a educação da população, instituindo o ensino primário obrigatório. Mas, sobretudo para a comunidade judaica, foi uma personalidade de extrema importância por permitir a sua integração à população austríaca, abolindo a obrigatoriedade do porte de sinais distintivos e permitindo que frequentassem universidades. Krausz relata que o pai do seu bisavô “Pinchas ben Avraham […] por força do édito de tolerância promulgado pelo imperador José II, em 1782, […] recebeu o sobrenome de Kraus” (Krausz, 2011, p. 121). No governo de José II, o alemão tornou-se língua obrigatória, funcionando como elemento de coesão social – mas também de imposição cultural – que marca fortemente a narrativa.
É, no entanto, nos campos sociais “transnacionais” judeus e germanófonos dispersos na cidade de São Paulo que o narrador tem contato com discursos identitários divergentes, que não apenas contradizem o que é verbalmente explicitado pela família, como preenchem silêncios sobre assuntos traumáticos, como o Holocausto: “Meus avós imaginavam-se emancipados desse destino judaico. Imaginavam terem se libertado dessa história tornando-se súditos do Kaiser” (Krausz, 2011, p. 59). Os encontros com outros exilados propiciam um desabar simbólico do Kaiser, grande totem do grupo. Através do seu conceito de “memórias subterrâneas”, Michael Pollak defende que “os silêncios conjunturais não são apenas o efeito de proibições vindas do alto, eles podem ser a consequência de uma interiorização de sentimentos de inferioridade, de vergonha, da antecipação de discriminações” (Pollak, 1993, p. 22). Esses silêncios familiares sobre o Holocausto são preenchidos por um discurso ufanista de uma época de paz e prosperidade do pré-guerra, uma estratégia de integração social visando a construir um simulacro do europeu desejável à constituição da nação brasileira. Ao sair, no entanto, dos muros das “Casas grandes” germânicas, ao ganhar as ruas paulistanas povoadas por atores sociais que retratam uma outra Áustria, Alemanha, Europa em ruínas, o que se arruina é a “comunidade imaginada” da infância.
Através do seu texto híbrido entre autobiografia e história, com um forte viés psicanalítico, Krausz desce do alto das colinas de sua infância para enfrentar os fantasmas do Holocausto que assombram o passado familiar e pairam nas ruas paulistanas. Se os avós paternos vivem na alienação de uma Áustria intocada pelas guerras, o pai também pouco fala sobre o assunto, mas esboça uma vontade de “aproximar-se de coisas que tinham ficado esquecidas do outro lado, bem longe, nas épocas da grande mudança” (Krausz, 2011, p. 53). Dominique Viart, analisando o silêncio simbólico da figura paterna nas “narrativas de filiação”, afirma que “o silêncio do pai não priva somente o filho de um melhor conhecimento da realidade paterna, mas corta também os laços com as gerações anteriores” (Viart, 2009, p. 103). Se a família materna carrega na língua ídiche a marca de sua judaicidade, assumindo um passado doloroso; a paterna tem no alemão do inimigo, um escudo protetor contra o sofrimento. Sobre a língua materna, totalmente sufocada na vida do narrador, ele descreve que parecia conjurar “um passado vergonhoso e degradante, uma presença que interrompia as articulações e cadências lustrosas do alemão como um ruído incômodo e persistente numa sala de concerto” que o fazia “desejar que se calassem para outra vez darem lugar às palavras escolhidas do Hochdeutsch3” (Krausz, 2011, p. 114).
Influenciado pela família paterna, o narrador concebe a sua identidade judaica tal qual “um mal congênito”, “algum defeito incurável” (Krausz, 2011, p. 99) que é preciso esconder da comunidade goy4, calando, se preciso for, a sua língua materna. Ainda que Krausz já tenha nascido em solo brasileiro, num contexto isento da violência antissemita vivida no império Áustro-Húngaro ou na Alemanha, essa estratégia de integração é uma herança “pós-memorial” herdada da família paterna. Em solo brasileiro, a língua alemã é um marcador de pertencimento a uma classe social elevada e a uma “raça superior”, pensamento não muito distante daquele da Alemanha hitleriana de outrora. O narrador esforça-se para fazer parte desse ideal linguístico-racial, sendo ele portador de dois estigmas: o ídiche herdado da mãe e o português da terra de exílio. Ele não desejava pertencer à classe dos “seres híbridos”, repudiados pela família paterna: “esses exemplares híbridos que não eram nem daqui, nem de lá, e cujo idioma era uma mistura precária e pouco feliz de alemão e de português – exemplares degenerados de uma espécie mestiça” (Krausz, 2011, p. 117).
O seu deambular pelos bairros paulistanos e pela cidade germanófila de Campos do Jordão corresponde à revelação do seu lado unheimlich, do grande trauma do Holocausto ocultado pela família e que nele habita sob a forma de lembranças que emergem na sua errância. Mal contra o qual nem os muros do casarão, nem a efígie de José II conseguem proteger.
O caminhar como falta e ânsia de pertencimento
A narrativa tem início no bairro nobre do Sumaré, lugar repleto de lembranças de uma das tias austríacas do narrador, a Tante Anna, e de seu jardim “cercado de cedrinho”, a partir do qual, ele confessa: “olhávamos com desdém para a vida suarenta das ruas” (Krausz, 2011, p. 12). Esse bairro-jardim cujo nome faz referência a uma espécie de orquídea (Cyrtopodium puntactum) está localizado na área mais elevada do centro expandido da cidade de São Paulo, o “espigão da Paulista”. Esse lugar de enunciação possui uma carga simbólica muito forte como momento inaugural da diegese, pois a descida desse ponto de observação em altura corresponde a um processo de desconstrução do mito atávico de superioridade familiar.
Essa necessidade de sair do lugar originário com o qual percebe não se identificar, de caminhar movido pela falta e a ânsia de pertencimento, percorre toda a obra krausziana. Tomando os termos de Michel de Certeau, caminhar é “ter falta de lugar” (Certeau, 1980, p. 188), o livro configura-se, assim, como a enunciação desse “nem, nem” que Certeau diz ser a ausência de um lugar próprio, sentimento doloroso de “desabrigo”, “desterro”, mas também abertura ao encontro com a alteridade no mundo e em si mesmo presentes.
No mesmo bairro, situa-se ainda a residência de uma amiga da família, Ada Löwy, e de seu marido Jacob, conhecido como James Löwy, um “gentleman à inglesa”, abastado comerciante de tecidos de Viena até a Primeira Guerra Mundial, quando “a Alemanha e a Áustria começaram a vomitar os seus judeus” (Krausz, 2011, p. 15). Nas suas rememorações, o narrador percebe a similaridade entre o discurso identitário dessas famílias, marcado por uma cisão espaço-temporal, representado pelo termo alemão drüben. Mas esse termo carrega uma carga alienante na narrativa krausziana, pois ele faz referência à “comunidade imaginada” fixada no período do pré-guerras, período este associado a uma época áurea de tolerância étnico-religiosa, florescimento científico e cultural e bonança econômica, “como se” as duas guerras mundiais não tivessem jamais existido. Krausz utiliza o termo “como se” para representar o discurso partilhado pelo grupo de judeus austríacos exilados em São Paulo, que à maneira dos contos de fada, aciona o mundo imaginário do drüben:
Como se era a fórmula mágica, nunca pronunciada, que governava as salas de parentes e de amigos que, em São Paulo e em Tel Aviv, em West Hampstead e em Queens, em Santo Amaro, em Rolândia e no Rio de Janeiro, tinham reconstruído suas ruínas depois que o grande vento que soprava do Paraíso os tinha vomitado em praias desconhecidas. Conversavam sobre livros alemães como se, e sobre viagens e estações termais na Alemanha como se […]. (Krausz, 2011, p. 103)
Para que esse discurso partilhado cumpra a função de coesão social do grupo em terra de exílio, o silêncio sobre os episódios coletivos traumáticos se faz, portanto, necessário. “Como se” pode ser interpretado não como um ato de desrespeito para com um dever de memória coletiva, mas como uma estratégia de sobrevivência. Nesse sentido, Pollak fala de um impacto sociopsicológico na comunidade judaica vienense com a decadência da “era liberal de Viena”, no fim do século XIX. Esse historiador-sociólogo explica que os judeus, que até poucos anos antes faziam parte do grupo mais excluído e recluso do império dos Habsburgo, tomam partido desse período de transformação social, possuindo um papel estratégico no seio da Bildungsbürgertum, a elite cultivada local. Eles se assimilam à sociedade vienense, alimentando um forte sentimento de identidade nacional em torno da língua e da cultura alemã. Essa assimilação traduziu-se como uma racionalização e uma laicização da vida judaica que tendia a substituir um judaísmo religioso por um judaísmo laico (Pollak, 1993, p. 46-48). Isso explicaria a proximidade dos Krausz, pelo lado paterno, com a cultura germânica e o seu afastamento com relação a uma vertente mais tradicionalista do seu grupo étnico-religioso, percebida como não-assimilável e, portanto, alvo fácil de discriminações. Os silêncios desses Westjuden com relação ao Holocausto, marca maior da dor da pertença ao judaísmo, fazem parte dessas “memórias subterrâneas” que o neto tenta resgatar.
Krauzs escolhe o desterro do “casarão” de sua infância e daquele bairro do Sumaré, jardim idílico de “um continente perdido do outro lado do mar, antes de Auschwitz-Birkenau” (Krausz, 2011, p. 14), e passa a ressignificar a sua vida através da verdade das ruas. O ruir da “comunidade imaginada” mostra a desolação total de um sujeito que nunca pertenceu, na sua plenitude, a nenhum dos seus grupos identitários: nem judeu, nem austríaco, nem brasileiro. Poupado do dever de memória com relação ao Holocausto, excluído da mesa de chá dos avós com as visitas que falavam alemão e negando a cultura da sua própria terra natal, o que sobra ao narrador é o “nem-nem” do qual fala Seligmann-Silva:
Os muros do casarão deveriam nos separar, a princípio, de tudo o que fosse excessivamente brasileiro. Meus avós se assustavam com a inércia, com o desleixo e com o pouco-caso de tantas pessoas que desprezavam o trabalho […]. A alegria parecia estar em outra parte: nas noites de dança e de bebedeira; nos lundus herdados dos escravos […]. Minha avó olhava para os que viviam do outro lado dos abismos com curiosidade, complacência, pena. Mas não os entendia. Nós também não. Buscávamos, ávidos, tudo o que vindo da Europa, pudesse nos salvar de nos tornarmos assim. Porém as fronteiras estavam sempre em movimento e eu nunca sabia exatamente onde se encontravam. Na verdade, elas iam se fechando sobre mim, de todos os lados. Aqui eram os Ostjuden e lá os que eram ricos demais ou pobres demais ou estúpidos demais. Nossa casa ia encolhendo, espremida pelas muralhas (Krausz, 2011, p. 83-84)
A imagem da “Casa grande” dos tempos coloniais é aqui atualizada na descrição que Krausz faz do casarão familiar, fortaleza cercada pelas tradições culturais dos ex-escravos percebidos como uma ameaça à pureza da raça branca europeia. Ainda que esse arquétipo da cisão se evidencie ao longo da obra, de forma a mostrar a perpetuação de um comportamento colonialista reproduzido pelos imigrantes do século XX, as fronteiras criadas são múltiplas, separando-os também de outros grupos judaicos ou germanófonos exilados e afetando mesmo a estrutura interna da família, dividida em Ostjuden e Westjuden. Essa fissura entre o lado materno e o paterno torna-se clara na descrição das memórias topográficas associadas ao bairro do “Bom retiro”:
tínhamos cruzado uma fronteira invisível, pois a cada tanto minha mãe apontava pela janela, para este e para aquele lado, e no meio da multidão, como que eleitos por algum destino especial, destacavam-se os homens de capotes pretos, chapéus e barbas, cuja alvura parecia vinda de outro mundo, e uma expressão horrenda acompanhava a palavra “ortodoxo”, que esvoaçava deste para aquele lado da cabine calorenta do nosso carro […]. Era como se fantasmas estivessem vagando pelas calçadas naquela manhã de sol, seguidas por crianças que não se davam conta do macabro da situação. Eu não sabia que eram sábios piedosos, isolados e incapazes de falar a língua do lugar em que viviam. (Krausz, 2011, p. 90)
O discurso da família paterna transforma, na cabeça do neto, vítimas em carrascos. Maduro, Krausz rememora as suas lembranças, ressignificando-as. Assim, os “fantasmas” vestidos de negro deixam de assustá-lo pela sua aparência estranha, envolvida no mistério de uma cultura judaica nunca conhecida em profundidade. O narrador compadece-se, agora, por esses seres incomunicáveis, que mudos apelam à partilha de um dever de memória pesado demais para carregarem sozinhos. Ainda que o pai rejeite os judeus ortodoxos e os seus hábitos tradicionalistas, o “Bom Retiro” representa um “lugar de memória” (Nora, 1984, p. XXIII) para os judeus, em São Paulo. Nesse bairro, estabeleceram-se as principais “redes transnacionais” da comunidade judaica paulistana, lugar de passagem, portanto, incontornável. Assim, por mais que o pai insista em manter um discurso de superioridade e de autossuficiência, herdado dos seus ancestrais Westjuden, ele não se sustenta ao se relacionar com os atores sociais desse bairro. Estão todos ali envolvidos no interesse comum de preservação das tradições culturais judaicas, enquanto grupo minoritário numa terra cujo apelo assimilacionista está no cerne mesmo do seu discurso identitário nacional: “Iríamos em busca de pão preto e de kasha, iguarias cujo nome meu pai glorificava e enaltecia como fizeram os nossos antepassados. […] um cheiro de desalento e necessidade” (Krausz, 2011, p. 89). O Bom Retiro ganha assim contornos de um shtetl tropical.
Outros personagens do livro como Frau Brombére, a vendedora de framboesas, e Siegfried, o motorista do avô, estão presentes nos bairros nobres paulistanos, habitados por Westjuden. O narrador põe foco na hipocrisia do discurso atávico de amigos e familiares que exploram a força de trabalho de seus próprios conterrâneos alemães, que “vinham de algum lugar incerto, onde se falavam dialetos cada vez mais corrompidos do alemão […] fragmentos arrancados do corpo principal que se tornavam cada vez mais aberrantes e grotescos.” (Krausz, 2011, p. 117). A imposição do alemão normativo como modelo linguístico é revelador de um pensamento imperialista, de um “corpo principal” dominante, representando uma nova cisão no seio da comunidade germânica exilada, igualmente calcada na associação entre expressão linguística e posição sócio-econômica. Esses imigrantes subalternos carregam em si “a devastação e o sofrimento como […] uma maldição” (Krausz, 2011, p. 116, 117) para que aqueles continuem a sustentar a sua “comunidade imaginada” em terras tropicais.
Contudo, se a família procura afastar-se do mal do Holocausto marcado na alma e no corpo dos judeus Ostjuden, ele se personifica e os confronta nas ruas do Brooklin Velho, bairro para o qual o narrador se muda com os pais:
[…] os vizinhos que eram fugitivos dos processos de desnazificação da Alemanha do pós-guerra e que tinham chegado ao Brasil pela Rat-Line; os outros vizinhos que, durante a guerra, faziam parte da Quinta-Coluna e os que, segundo notícias publicadas no jornal, tinham abrigado Mengele por anos a fio. […] O pai do meu amigo Martin com quem eu andava de bicicleta pelas ruas do Brooklin Velho, tinha sido membro da Waffen SS. E havia tantas faces misteriosas por trás dos portões de ferro do bairro – alemães com sotaque argentino; funcionários graduados de grandes empresas alemãs que nos faziam estremecer de inveja com os seus Mercedes-Benz (Krausz, 2011, p. 78)
Sustentando um discurso de superioridade com relação aos brasileiros e aos Ostjuden, a família Krausz convive, no entanto, com alemães abastados, muitos deles outrora associados ao Partido Nacional-Socialista alemão, que “os olhavam com o desprezo reservado aos brasileiros de modo geral” (Krausz, 2011, p.79). Essa coabitação é, todavia, interessante aos Krausz na medida em que os aproxima, por meio da língua, de uma parte da elite econômica paulistana. As “redes transnacionais” criminosas mencionadas no texto beneficiavam, por vezes, não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas os dois países em questão, por meio da manutenção de relações comerciais com empresas multinacionais colaboradoras do regime nazista, como é o caso de Mercedes-Benz, que facilitavam a acolhida em território brasileiro de colaboradores nazistas. Dessa forma, o Brasil revela-se ser, na obra krausziana, um país de importância para a compreensão da história da Segunda Guerra Mundial : terra de refúgio para judeus e resistentes, bem como para os próprios membros do Partido Nacional-Socialista alemão. Essa realidade social reflete a posição política ambígua do governo brasileiro ainda durante o conflito, mesmo tendo declarado guerra ao Eixo em 1942 e contra ele lutado em 1944.
Sobre a ambivalência do governo brasileiro no pós-guerra, Maria Luiza Tucci Carneiro explica que enquanto uma massa humana desprovida de lar começou um “imenso êxodo espontâneo na tentativa de retornar à vida”,
no mesmo momento, um grupo de refugiados políticos deu origem a uma outra corrente migratória em direção da América do Sul, corrente metaforicamente chamada de rota dos ratos. […] Vivendo sob uma falsa identidade, nem todos conseguiram escapar ao olhar vigilante daqueles que tinham sobrevivido à Solução Final. Para outros, no entanto, os nomes e os endereços de refúgio foram ocultados pelas “leis do esquecimento” que, além de impedir o acesso aos documentos ditos sensíveis, garantiram a sobrevivência da história oficial. (Carneiro, 2016, p. 103)
Essas “leis do esquecimento” sobre as quais fala Carneiro também são válidas para o comportamento brasileiro com relação a essa “rota dos ratos” e às circulares secretas promulgadas pelo governo de Getúlio Vargas e de Eurico Gaspar Dutra, impedindo a entrada e refugiados judeus no Brasil. Elas garantiram, assim, a difusão de uma história oficial que permitiu a construção da falsa imagem do Brasil como terra de acolhida incondicional: “o presidente eleito Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) conservou duas circulares secretas contra a entrada dos israelitas e fechou os olhos sobre as ações da Missão Militar Brasileira, instalada em Berlim desde 1946, que cobria a fuga de nazistas para o Brasil” (Carneiro, 2016, p. 48).
Todavia, se há uma rede transnacional do esquecimento dos crimes cometidos pelos nazistas, o livro apresenta igualmente iniciativas de constituição de uma rede transnacional da memória, fomentada pelo Museu Judaico de Berlim, “lugar de memória” da história do judaísmo na Alemanha. Este museu foi fundado em 1933 e encerrado em 1938 pelo Regime nazista, que confiscou todas as suas obras. Em 2001, o museu reabre as suas portas por iniciativa do governo alemão. O narrador, já adulto, é convidado a fazer parte de uma rede transnacional da memória, participando da organização de uma grande exposição internacional nesse museu, cujo tema era o destino dos judeus alemães e austríacos refugiados do Nazismo. A sua missão consistiria em visitar famílias, no Brasil, à procura de vestígios materiais que pudessem servir de alegoria do universo por eles deixado. Com essa finalidade, ele trava conhecimento com Alfred Frank, no bairro de Santa Cecília. Seu pai, Ludwig, fora morto pelos nazistas, tendo conseguido, pouco tempo antes, escrever um bilhete à família pedindo que fugissem: “uma pequena obra literária” (Krausz, 2011, p. 37), lançada para fora do caminhão da Gestapo que o levava para um campo de concentração. Elisabeth Frank havia recusado assinar, nos anos 50, formulários por meio dos quais o irmão pedia uma indemnização financeira ao governo alemão pelo assassinato do pai e o confisco dos bens da família: “‘Não preciso do dinheiro deles’, sentenciou Elisabeth” (Krausz, 2011, p. 40).
Essa experiência com a família Frank parece ser um divisor de águas na vida de Krausz, um marco no seu processo iniciático, por meio do qual ele compreende a necessidade psíquica não só da lembrança, mas também do esquecimento: “Quando recebi o convite do Museu, imaginava que haveria de lidar com histórias mais ou menos felizes, de gente que conseguiu escapar e reconstruir suas vidas no Brasil” (Krausz, 2011, p. 37). Ao recusar voltar a tecer laços com a Alemanha, Elisabeth revela o peso sentido por essa “pós-memória” do pai assassinado. Ela não nos parece, portanto, conceber da mesma forma que Krausz a sua história familiar. O arrependimento da pátria matricida não traria o seu pai de volta, apenas o seu fantasma. Assim, sobreviver seria deixar os cadáveres enterrados. Nesse sentido, Maurice Blanchot proclama o direito ao silêncio e ao esquecimento: “não é você que falará; deixe o desastre falar em você, seja pelo esquecimento ou pelo silêncio” (Blanchot, 1980, p. 12).
No último capítulo do livro “O roubo do fotógrafo”, Krausz recorda uma lembrança também associada ao Museu Judaico de Berlim e ao resgate das obras de pintores judeus perseguidos pelos nazistas. Ele visita com o pai a casa de um amigo fotógrafo judeu, Otto Hoffman, no bairro de Higienópolis. Esse personagem é descrito como alguém que levava muito a sério o ofício de “tornar visível de todos o que era invisível” (Krausz, 2011, p. 136). Contudo, o fotógrafo vivia no escuro, com as cortinas fechadas e as luzes apagadas: “a penumbra era o seu país” (Krausz, 2011, p. 135). Esse jogo de claro/escuro, visível/invisível, memória/esquecimento, palavra/silêncio está no cerne de um episódio na vida desse personagem. Hoffman descobre, no catálogo do Museu Judaico de Berlim, um quadro que lhe fora roubado: Juden auf dem Weg zum Gebetshaus (“Judeus a caminho da casa de orações”), do pintor judeu Jacob Steinhardt. A obra havia sido guardada no ateliê de um amigo, que alegou, por sua vez, ter sido, ele mesmo, vítima de um roubo. Após se interrogar sobre as razões que motivaram Hoffman a não cobrar do amigo a restituição do quadro ou uma indemnização financeira, Krausz chega a duas hipóteses possíveis: ele preferiu que o quadro tivesse maior visibilidade, permanecendo em um museu estrangeiro; ele quis ofuscar as suas próprias lembranças dolorosas por essa obra evocadas. Assim, ainda que a vontade de expressão das “memórias subterrâneas” do Holocausto permeie toda a obra krausziana, o narrador parece chegar a uma compreensão sobre os limites da imposição de um dever de memória. A necessidade social de conhecimento desse episódio traumático deve respeitar a barreira pessoal da dor e o desejo de esquecimento para a reconstrução do sujeito e de seus descendentes.
Contar a diáspora judaica no Brasil, na sua relação com a memória e o esquecimento do Holocausto, requer, ainda, a compreensão da própria relação do Brasil com o seu passado colonial. Assim, comparando a importância dada à memória nas culturas brasileira e judaica, Sorj declara: “enquanto a cultura brasileira cultiva o esquecimento, a cultura judaica é baseada na lembrança […]; no mito nacional brasileiro o passado é desvalorizado e tudo o que lhe é próximo é identificado de forma negativa” (Sorj, 1997, p. 20, 16). Nesse sentido, no seu gosto pelo progresso e abandono das tradições ancestrais, a família Krausz alinha-se à dimensão temporal identitária brasileira. As reações de Elisabeth Frank, ao perdoar a dívida do governo alemão para com a família, e a de Otto Hoffman, ao se livrar do quadro e do fardo identitário, parecem-nos significar a mesma postura de rejeição de um passado infausto. Todas essas posturas prezam o esquecimento para a sobrevivência em terra de exílio.
Parece-nos, portanto, imprescindível pensar nos impactos do legado colonial brasileiro, arraigado nas suas estruturas e comportamentos sociais, para além do seu território nacional e do binômio histórico metrópole/colônia. A própria relação pessoal dos exilados com a sua terra de origem, seus mitos e fantasmas, traduzida pelo desejo de memória ou de esquecimento, é influenciada pelo discurso colonialista brasileiro. O mito atávico familiar ganha terreno fértil na sociedade brasileira, com seu ufanismo amnésico e fantasista, anestesiando a dor dos crimes passados em prol da manutenção de uma sociedade eugenicamente hierarquizada em que cada um tem o seu lugar social. Nesse contexto duplamente aterrador, Krausz escolhe o desterro, o não-lugar, e a busca pelo caminhar.
Conclusão
Desterro. Memórias em ruínas (2011) de Luis S. Krausz é uma “enquete sobre a ascendência do sujeito” (Viart, 2009, p. 95) neto de judeus-austríacos emigrados em São Paulo, a interioridade do sujeito sendo construída, portanto, através de uma reflexão sobre a sua anterioridade. Nessa “enquete”, que assume a forma de um rememorar da sua infância passada no seio da comunidade judaico-germânica de São Paulo, os “campos sociais transnacionais” (Levitt e Schiller, 2004) assumem um papel fundamental para a ressignificação da “comunidade imaginada” herdada.
Nesses “campos sociais transnacionais”, unidos por afinidades étnicas e/ou linguísticas, a imagem simbólica do vencedor histórico, sustentada pela família paterna Westjude, nostálgica da “era liberal de Viena”, é contraposta àquela dos vencidos, representados pelos imigrantes econômicos e refugiados do Holocausto. No entanto, a coabitação com foragidos nazistas nos bairros nobres de São Paulo, coloca esses Westjuden, novamente, numa posição de submissão histórica ao grupo dominante, reatualizando em terras tropicais as relações passadas na Europa. Assim, a observação das relações tecidas entre esses exilados, em diversos bairros paulistanos e em Campos de Jordão, serve de contraponto à narrativa familiar.
Esse contraponto narrativo é observado pelo narrador também no seio de sua própria família, ao constatar a relação de dominação do lado paterno, Westjude, sobre o lado materno, Ostjude, fato revelador de uma “comunidade imaginada” construída sobre o esquecimento das origens judaicas e do traumatismo do Holocausto.
Essa estratégia de integração familiar em solo brasileiro alinha-se a um pensamento colonialista socialmente arraigado, reatualizando um discurso de superioridade racial. No entanto, ainda que perfeitamente integrados como elite econômica e cultural, esses exilados são atores ativos nas “redes sociais transnacionais”.
Assim, o “transnacionalismo”, como área epistemológica, propõe, dentro dos estudos pós-coloniais, um “novo paradigma que rejeita a noção, durante muito tempo sustentada, de que a sociedade e o Estado-Nação são uma entidade única” (Levitt e Schiller, 2004, p. 1003). Permitindo incluir as diásporas e as imigrações provocadas por conflitos sociais e razões econômicas dentro das reflexões pós-coloniais, o “transnacionalismo” alarga o próprio conceito de Nação, para além de um pensamento atávico e da relação exclusiva colônia/metrópole.
Esse binômio histórico, no cerne do discurso identitário brasileiro, influencia até mesmo a própria relação dos exilados judeus com a sua identidade étnico-cultural. O mito nacional brasileiro, pregando a dissolução das culturas de origem no caldeirão de uma identidade cultural comum, apela ao esquecimento do passado, visto como traumático. Krausz percebe que esse comportamento, mantido não apenas pelos seus familiares, como por outros refugiados e descendentes, é pautado por esse discurso de forma a garantir a integração social do grupo em terra de exílio ou a continuidade de suas vidas, a sua real “sobrevivência”. Assim, por mais que o narrador apele à expressão das “memórias subterrâneas” (Pollak, 1993) da família com relação ao Holocausto, ele parece chegar, ao fim da diegese, a uma compreensão desse silêncio, ao colocar em relação a identidade judaica e a brasileira.
Recusando o mito nacional brasileiro promotor de uma pseudo harmonia socioracial, assim como o mito atávico familiar de superioridade judaico-germânica, o que resta ao narrador é um vazio identitário, representado pela imagem do desterro. Sua errância mnemônica ou as suas memórias em deslocamento podem ser compreendidas como uma tentativa de reterritorialização, de encontro de um lugar de acolhida para a sua subjetividade.