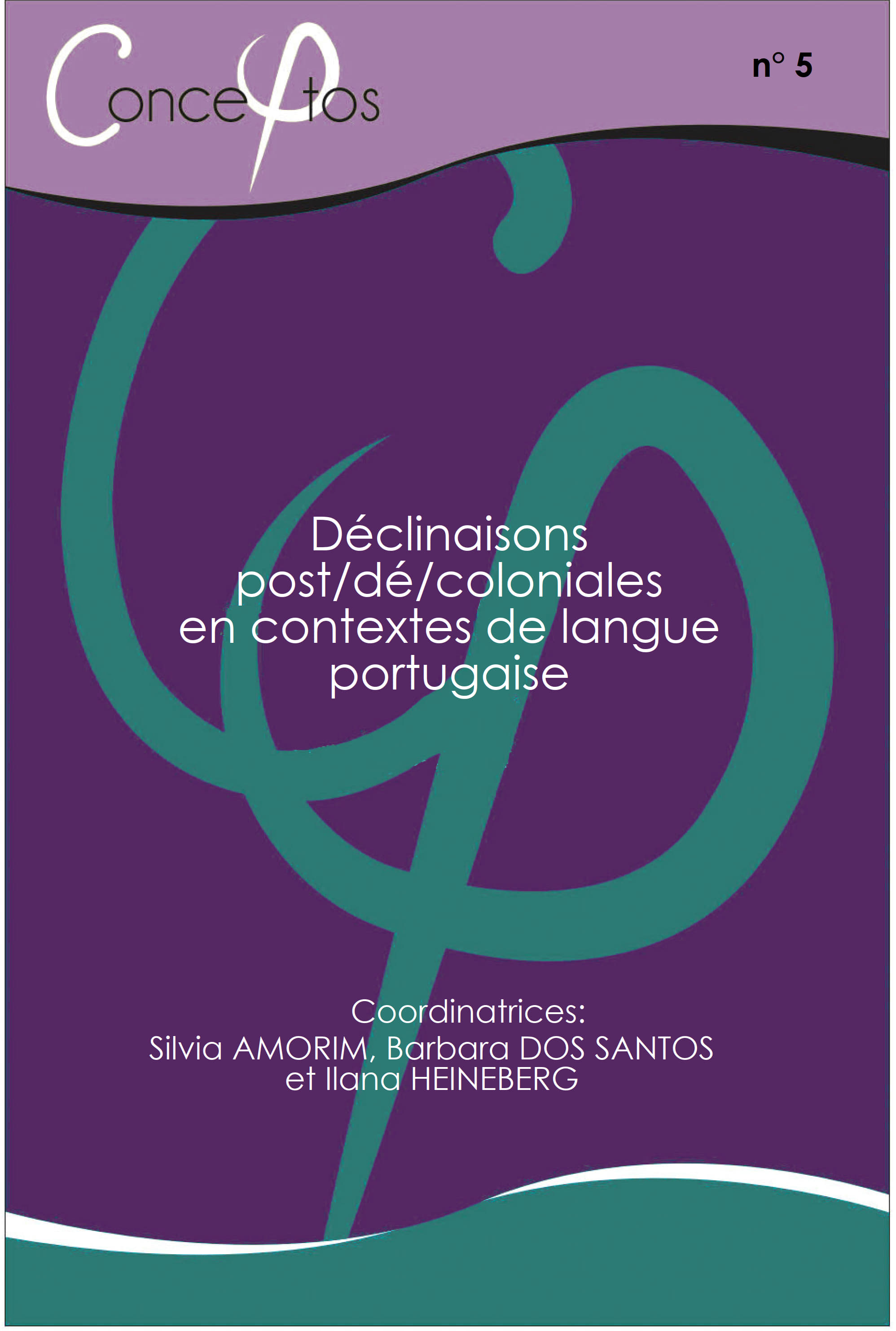Ritual poético de (re)fundação identitária na literatura ameríndia
A descolonização do inconsciente envolve um trabalho sutil e complexo de cada um e de muitos que só se interrompe com a morte; ela nunca está dada de uma vez por todas. Mas a cada vez que se consegue dar um passo adiante nesta direção é mais uma partícula do regime dominante em nós e fora de nós que se dissolve, e isto tem poder de propagação.
No poema “Autobiogeografia” de Fernanda Vieira, jovem escritora ameríndia de origem Xokó, o ato de criação literária inaugura um espaço de (re)fundação identitária, marcado pelo processo de descolonização da subjetividade, recusando o lugar marginal que a sociedade brasileira reserva aos povos indígenas. A consciência do lugar subalterno reservado a esses povos pela matriz colonial de poder – uma máquina de produzir e hierarquizar diferenças (Mignolo, 2015) – conduz a autora a optar por uma escrita-práxis, “considerada como um espaço político de resistência e de autorreconstrução ontológica e antropológica que busca entrelaçar as ‘autohistórias’ (a história pessoal) à violência e aos traumas da história coletiva dos ameríndios” (Olivieri-Godet, 2020). Dessa forma, a questão da afirmação da identidade étnica na paisagem literária torna-se um instrumento de luta associado ao ativismo cultural e político. Pretende-se evidenciar o caráter transversal da poética ameríndia que se manifesta num movimento contínuo de atualização da tradição, recorrendo à tática de reabitar a memória ancestral, contextualizar o presente e projetar o legado intergeracional, fazendo-o interagir com a contemporaneidade.
“Autobiogeografia” realiza-se como um ato de autoidentificação, no qual a afirmação de pertencimento identitário étnico e cultural, expõe a visão de mundo abraçada pelo sujeito poético. Para a compreensão do eixo de leitura que proponho para o poema, destaco, inicialmente, alguns elementos relacionados com a identidade da autora assim como com a questão da territorialidade indígena, levando também em conta a relação entre ativismo político e criação literária. Chamo igualmente a atenção para o fato de o poema romper com o pensamento epistêmico eurocêntrico, figurando uma outra alternativa de construção de subjetividades relacionada com o universo cosmogônico dos povos indígenas. Por esse motivo, a perspectiva crítica da decolonialidade, que questiona a matriz de poder própria da modernidade capitalista, atravessa minha leitura, amparada, fundamentalmente, no pensamento teórico de Aníbal Quijano e de Walter Mignolo1. A voz que emerge do poema se projeta livre da subalternização dos seres e dos saberes imposta pelo sistema de dominação cultural às subjetividades dos povos indígenas. Observo que os depoimentos da própria autora se inserem nessa perspectiva crítica compartilhada, igualmente, por artistas e ativistas do movimento indígena contemporâneo. O texto poético inaugura uma outra possibilidade epistêmica em consonância com um modelo alternativo de conhecimento, centrado na experiência ancestral dos povos originários.
Uma consulta ao blog da autora permite o acesso a dados, que integram sua autoapresentação, abaixo reproduzidos:
Fernanda Vieira
(Sub)urbana, Indígena, mestiça, Indigenodescendente, Carioca, descendente com origem Xokó e com suas raízes paternas em Aracaju (SE), e raízes maternas no subúrbio Carioca. Ativista, escritora, professora, tradutora e pesquisadora. Está doutoranda em Estudos de Literatura pela UERJ, foi Visiting Scholar na Boston University (2019/2020), está Professora de Inglês/Literaturas na UEMG - Divinópolis. Pesquisa Literaturas Indígenas de autoria de Mulheres em Abya Yala. Publicou "Crônicas ordinárias", sua primeira obra de ficção, em 2017 pela Macabéa Edições. (http://ikamiaba.com.br/fernanda-vieira)
Na apresentação de Fernanda Vieira fica evidente a ênfase dada aos múltiplos referentes identitários com os quais ela se identifica e que apontam para a dinâmica tensional desses aspectos no seu percurso de vida, salientando o caráter complexo e plural do processo de (re)construção identitária, tal como ela o experimenta. Dessa forma, o que sobressai dessa citação é a imagem de um ser em trânsito por várias territorialidades sendo também por elas perpassado.
De todos os referentes evocados na sua apresentação, o universo cultural indígena é o mais distante e apagado das vivências pessoais da autora. Essa constatação levou-me a propor a leitura do poema “Autobiogeografia” como um exercício de escrita no qual o sujeito poético, duplo da autora, se reinventa, se metamorfoseia e se reconecta com essa territorialidade.
O apagamento da memória dos povos indígenas e da dimensão da historicidade de seus territórios pelo poder hegemônico é responsável pela marginalização, desprezo e desconhecimento de sua cultura: o ameríndio no imaginário nacional é o estrangeiro de dentro, o Outro indesejável que o país ignora ou relega a uma categoria transitória, condenado a desaparecer. Enquanto ativista do movimento indígena, Fernanda Vieira se insurge contra essa maldita herança colonial que se perpetua na contemporaneidade:
Os povos indígenas não são povos do passado. Os povos indígenas não estão acabando. Não são primitivos, simples ou incivilizados. O destino dos povos Originários não é, ao contrário do que a colonialidade apregoa com fervor e desespero, a extinção pela assimilação forçada – já que o genocídio não é/foi a única ferramenta de colonização. Indígenas são pessoas cuja diáspora escapa à geografia física e se dá/deu pela estrangeirização dentro de seus próprios territórios. (Vieira, http://ikamiaba.com.br/literaturas-indigenas)
O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2016) nos lembra que a relação com a territorialidade, entendida aqui no sentido amplo do termo, que inclui as dimensões material, política, simbólica e ontológica, constitui uma referência primordial para os povos originários. Desde a conquista do continente americano até os tempos atuais, atravessado pela ordem da colonialidade do poder subjacente à modernidade capitalista (Quijano, 2015), a estratégia privilegiada pelo poder hegemônico para lhes impor o modelo ocidental tem sido exatamente a de privá-los de suas terras, amputando-os de suas referências culturais e desestruturando-os socialmente, investindo no processo de assimilação ou seja de “transformação do índio no não-índio”. Dessa forma, fomentam a imagem mítica de “índios puros” que identificam como “a identidade indígena verdadeira”, negando às culturas ameríndias a dinâmica de transformação característica de todo processo cultural. Pesquisas demonstram que, a partir da segunda metade do século XIX, “os índios dos aldeamentos passam a ser referidos com crescente frequência como índios “misturados”, agregando-se-lhes uma série de atributos negativos que só desqualificam e os opõem aos índios “puros” do passado, idealizados e apresentados como antepassados míticos” (Dantas et alii, in Cunha, 1992, p. 451).
Os povos indígenas das Américas possuem uma longa experiência da espoliação e da imposição de formas de organização territorial. Fernanda Vieira assume sua descendência Xokó por parte de pai, uma das múltiplas etnias que ocupavam e ainda ocupam o território que hoje corresponde ao Nordeste do Brasil, embora a maior parte delas tenha sofrido a usurpação de seus territórios tradicionais. Ora, todos nós sabemos da antiguidade da presença europeia na região do Nordeste do Brasil. Desde as primeiras décadas do século XVI, as lavouras da cana de açúcar desenvolveram-se nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. No século seguinte, o rio São Francisco facilitou a penetração das grandes boiadas e dos assentamentos. Como nos lembra o estudo de Beatriz Dantas et alii, intitulado “Os povos indígenas do Nordeste brasileiro”, capítulo da obra de referência incontornável História dos índios no Brasil, de Manuela Carneiro da Cunha (1992), os povos indígenas do Nordeste caracterizam-se pela grande diversidade e prolongado contato com as frentes de expansão. Segundo os pesquisadores, os Xokó viviam no sertão central de Pernambuco ao norte do São Francisco. Como outras etnias indígenas, sofreram as consequências do projeto colonial português de confinamento, escravização e extermínio de corpos indígenas através da implementação de “guerras justas”, da adoção da política de descimentos – “deslocamentos de povos inteiros para novas aldeias próximas aos estabelecimentos portugueses” (Perrone-Moisés, 1992, p. 118) – e de aldeamento, confinando os povos indígenas em territórios sob o controle do Estado e da Igreja católica. Posteriormente, muitos aldeamentos foram transformados em vilas. Os Xokó foram aldeados no início do século XIX em Pernambuco, em 1802. Assim como outros grupos de indígenas, muitos deles abandonavam as aldeias, vagavam pelos sertões, perdendo até mesmo a consciência de sua identidade étnica, devido à dispersão e consequente desagregação das comunidades indígenas. Fernanda Vieira utiliza a palavra diáspora para referir-se ao processo de estrangeirização dos ameríndios no interior do seu próprio território.
No início do século XX, o Estado brasileiro criou as reservas, o que também contribuiu para o controle dos corpos indígenas, impondo um modo de vida sedentário a povos semi-nômades. O resultado de séculos de uma política de esbulho dos territórios tradicionais, implementada pelo poder colonial, à qual o Estado brasileiro deu continuidade, tem como consequência a dramática situação de conflito e violência em torno da luta pela demarcação das terras indígenas, no contexto do Brasil atual. Como assinala Walter Mignolo, as nações da América Latina reproduzem, internamente, esses elementos da matriz colonial de poder, fabricando e hierarquizando as diferenças (Mignolo, 2011). Segundo o autor, a diferença colonial externa à Europa são os índios e os negros.
Ao estudar as obras das escritoras ameríndias Eliane Potiguara e Graça Graúna, ambas descendentes de uma outra etnia do Nordeste, os Potiguara, eu ressaltei o desafio que essas autoras enfrentam, no momento em que se apoderam da memória do patrimônio indígena milenar para realizar uma busca simbólica e ontológica que as conduza a reconstruir-se culturalmente indígena e a reativar sua cultura após séculos de esquecimento. Ambas reconfiguram, por meio da criação literária, sua relação com um território que não conheceram diretamente e cuja desestruturação se deveu ao longo período de contato com as frentes de expansão : “Eu não tenho minha aldeia / Minha aldeia é minha casa espiritual / Deixada pelos meus pais e avós / A maior herança indígena / Essa casa espiritual / É onde vivo desde tenra idade”, escreve Eliane Potiguara no poema “Eu não tenho minha aldeia” (Potiguara, 2004, p. 131). Adotam a tática da reinvenção simbólica de um lugar de habitabilidade do sujeito como estratégia de resistência à usurpação dos territórios autóctones (Olivieri-Godet, 2020, p. 17). A resistência e a resiliência dessas autoras emanam da consciência que elas possuem do lugar reservado aos povos indígenas na matriz colonial de poder e da necessidade de desconstruir esse imaginário. O neologismo “artivismo”, que o artista plástico e escritor makuxi, Jaider Esbell2 reivindica e adota, para referir-se às produções artísticas indígenas, sintetiza perfeitamente a consciência da necessidade de conjugar arte e política para enfrentar as múltiplas formas de violência contra os povos indígenas e se contrapor às formas de apagamento da memória cultural herdada de práticas ancestrais. A produção artística prolífica e multiforme de Esbell abraça a plataforma da reatualização do legado ancestral, comum a vários artistas que se identificam com o movimento da “Arte Indígena Contemporânea”.
Observa-se que esse processo de reterritorialização simbólica se faz presente nas diversas performances das artes plásticas indígenas e na produção literária contemporânea, mobilizadoras de um imaginário insubordinado. A estratégia literária implica em recorrer à reapropriação memorial dos referentes culturais ameríndios para criar seu próprio habitat. Fernanda Vieira inscreve-se nessa démarche inaugurada por Eliane Potiguara e Graça Graúna, precursoras da escrita de mulheres indígenas no Brasil, articulando literatura, crítica social e atividade política militante como uma via possível de resistência, de decolonização do imaginário ocidental e de reconstrução da subjetividade. Esses aspectos que entrecruzam anterioridade (temática da ascendência e da ancestralidade) e interioridade (ressignificação da existência), retomando aqui a perspectiva de análise de Zilá Bernd (Bernd, 2018), são ressaltados no pronunciamento de Fernanda Vieira sobre o significado atribuído ao neologismo “autobiogeografia”:
Autobiogeografia é mais do que um poema, é um entendimento de mundo. Venho trabalhando com ele na minha vida, na minha escrita e na minha pesquisa. Vou explicando mais sobre com o tempo. Autobiogeografia exprime a noção de escrever e inscrever a si própria nos espaços físicos, sociais, emocionais e espirituais, em novos entendimentos e reposicionamento de si. (Vieira, 2020)
O “reposicionamento de si” implica no acolhimento da missão de “escrever com o outro”, reatualizando a herança ancestral e instaurando um espaço poético e político para lutar contra o apagamento da memória cultural dos povos indígenas.
« Autobiogeografia »
O poema “Autobiogeografia”3 (2020) de Fernanda Vieira tem a força de um canto xamânico: aposta no caráter performativo da linguagem para recriar o mundo, realizando, através do verbo, o ato de reunificar corpo e linguagem, ancestralidade e contemporaneidade. Aproxima-se da complexidade da palavra xamânica pela configuração relacional e pelo contexto de multivocalidade e multipessoalidade no qual se realiza, características próprias à palavra xamânica, observadas por antropólogos e linguistas em estudos consagrados às cosmogonias ameríndias (Martins, 2020, p. 108). Eis o poema na sua íntegra:
Autobiogeografia
Eu não falo só
Minha voz é composta pelas vozes
Das minhas ancestrais
Dos meus ancestrais
Que se encontram guardados no tempo
E em mim
Esse é o meu tempo
Ixé aiku iké
E todas e todos seguem comigo
Cada palavra que deixa minha boca,
Cada linha que encosta no papel
E conta minha história
É topografia da minha alma
que me reposiciona no mundo
Se rapé puku
Eu não escrevo só
Eu não existo só
A palavra e a caneta pesam
Com a trajetória de quem veio antes de mim
Para que eu chegasse até aqui e pudesse carregar comigo
Todos os passos que foram dados até ontem
Eu sou o hoje da minha ancestralidade
O tempo é tecido de mistério
Iandé iaiku
Nos embaralhamos nas suas tramas e
Compomos o cosmos e o topos
Em uma cosmografia
Autobiográfica
E coletiva
Uma autobiogeografia
No poema, o processo de reapropriação simbólica das territorialidades ameríndias vai de encontro ao imaginário hegemônico ocidental de apagamento do legado indígena e de centramento no indivíduo. O processo de subjetivação do sujeito poético é portador de uma ética coletiva, instaurando uma dinâmica tensional na qual o outro também sou eu, sugerido na construção anafórica dos versos “Eu não escrevo só / Eu não existo só”.
O poema recorre à memória cultural, inscrita na ótica temporal da longa duração, como uma alternativa para reavivar a memória ancestral e fazer emergir uma outra perspectiva epistêmica. Este é o caminho inaugurado pela escrita do texto poético. No momento em que se apossa da memória de seu patrimônio ancestral, estabelecendo uma filiação cultural e familiar, o eu poético cria seu próprio habitat, reinventando novas modalidades de habitabilidade psíquica (Harel, 2005, p. 117). Nesse sentido, pode-se falar do poema como espaço utópico, político e ético de refundação do eu, através da adesão a uma performance de transfiguração, de transmutação do eu, de ressignificação da existência. Uma maneira de habitar o mundo que pressupõe a conquista de uma intimidade ancorada na memória ancestral, movimento que impulsiona a atividade poética a recriá-lo.
O sentido da escrita se desdobra na própria arquitetura formal do poema, que se vale de um único bloco discursivo, sem pontuação, para reproduzir o fluxo contínuo da voz interior que elabora sua singularidade. A subjetividade da enunciação determina sua natureza rítmica, a ausência de pontuação denotando o desapreço pela organização lógica do discurso. O ritmo dos versos não preexiste ao poema, sendo condicionado pelo movimento da palavra próprio ao sujeito que organiza semanticamente o discurso. Ritmo e discurso se implicam mutuamente4 (Meschonnic, 1982). O tratamento da sonoridade poética acompanha uma dinâmica similar ao abandonar o esquema tradicional das rimas para explorar combinações sonoras sutis pelo viés de assonâncias e aliterações. Os elementos que enformam o registro lírico do poema intensificam a tensão entre o espaço psíquico do sujeito e o processo de construção genealógica que o poema instaura, exacerbada pelo recurso predominante do uso do presente do indicativo:
Eu não falo só
Minha voz é composta pelas vozes
Das minhas ancestrais
Dos meus ancestrais
Que se encontram guardados no tempo
E em mim
Esse é o meu tempo
Ixé aiku iké
[…]
Poder-se-ia aproximar a escrita do poema da função que alguns povos indígenas atribuem à pintura corporal, ou seja, indicar o pertencimento de um sujeito a um coletivo. Segundo Viveiros de Castro, “a pintura corporal constitui com os adereços a pele visível de um sujeito enquanto membro de um coletivo ou de uma espécie específicos5” (Castro e Taylor, 2006). O poema, de forma semelhante à função da pintura corporal indígena, estabelece uma relação de afiliação do sujeito a uma coletividade. A voz poética fecundada pela ancestralidade reinscreve-se na territorialidade ameríndia, inaugurando uma sociabilidade alternativa uma vez que o eu, diferentemente do insulamento do sujeito ocidental, identifica-se com o coletivo, expande-se na experiência da coletividade. Em vez de figurar um eu autocentrado, o texto procura cerzir as fissuras entre subjetividade e sociabilidade, ao atualizar a memória cosmológica da ancestralidade indígena, marcada pela imbricação das relações entre corpo, terra e território, como sugere o neologismo do título: autobioGEOgrafia. Atente-se para o lugar central de “geo” na palavra nova inventada, chamando a atenção para a relação fundamental entre terra e corpo nas cosmogonias indígenas: “A terra é o corpo dos índios, os índios são parte do corpo da Terra. A relação entre terra e corpo é crucial”, observa Viveiros de Castro (2016, p. 191).
A escrita poética constitui um ritual de reinvenção de si através do qual o sujeito metamorfoseia-se, fecundado pela experiência social e cosmológica coletiva herdada da ancestralidade. Atravessado pela experiência coletiva, o sujeito poético inaugura um movimento de reatualização da tradição, fundamentado na percepção temporal de continuidade entre passado, presente e futuro. O sentimento de conexão entre o eu lírico e sua linhagem ancestral possibilita que a palavra herdada continue irrigando o presente: “Esse é o meu tempo / Ixé aiku iké” que significa, “eu estou aqui”. Tempo que é também o da reaprendizagem das marcas culturais apagadas do imaginário da sociedade brasileira, representadas no poema pelo universo da língua estranhada. Os três versos reproduzidos em tupi manifestam a resistência do sujeito indígena, apesar da política secular de apagamento, cujo caminho é atravessado pela experiência coletiva, culminando com a fusão do eu com a coletividade: Ixé aku iké (Eu estou aqui); Se rapé puku (Meu caminho é longo); Iandé iaiku (Nós estamos). Na impossibilidade de expressar-se através da língua indígena de seu povo que lhe foi usurpada, Fernanda Vieira recorre à estratégia canibalesca que as autoras ameríndias adotam ao se apropriarem das línguas europeias colonizadoras para se autorrepresentarem, produzirem um novo imaginário, recriarem mundos e cosmovisões, subvertendo os paradigmas da colonialidade (Aníbal Quijano, 2015), que se perpetuam na contemporaneidade do mundo globalizado capitalista.
O poema encena um eu poético em movimento, inaugurando uma experiência de autoconhecimento e de afirmação identitária: o percurso que o leva a aproximar-se da sua mais íntima face é também o que desvela a sua afinidade com o outro. O itinerário, figurado no movimento circular da construção formal do poema, inicia e termina com a tentativa de precisar o sentido da palavra “autobiogeografia”. A sua composição circular imita a concepção do círculo sagrado da vida que embasa a visão ameríndia cosmocêntrica de interdependência entre os seres vivos, a terra e o cosmos, peculiaridade apontada, entre outros, pelo historiador da etnia huroniana Georges G. Sioui: “a vida é circular e o círculo é o gerador da energia dos seres” (Sioui, 2005, p. 18).
O lugar do sujeito que se identifica com a experiência coletiva é o da resistência, da ressurgência e da afirmação dos referentes identitários indígenas, embora esses referentes não sejam explicitados, mas intuídos, uma vez que todo o poema se constrói por meio da interiorização da relação afetiva com a ancestralidade. A escrita induz o sujeito, atravessado e transformado pela experiência do outro, a reposicionar-se:
E todas e todos seguem comigo
Cada palavra que deixa minha boca,
Cada linha que encosta no papel
E conta minha história
É topografia da minha alma
que me reposiciona no mundo
Se rapé puku
O ato poético funde intimidade e coletividade, reorientando a identidade do sujeito e presentificando a memória ancestral na contemporaneidade: “Eu sou o hoje da minha ancestralidade”, escreve. A ênfase é colocada na relação de continuidade, particularidade que embasa o pensamento ameríndio, fundamentado na interação entre o sujeito individual e sujeitos coletivos. Decorre daí a ideia de experiência plural que atravessa a concepção de identidade segundo a qual “o outro é uma presença viva no meu corpo”, conforme assinala Ailton Krenak (Krenak e Rolnik, 2019).
Como uma semente de transformação, a memória atravessa o tempo e o espaço para propor outras formas de pensar e de relacionar-se com o mundo. O poema inscreve-se em uma concepção relacional de identidade enquanto processo em curso, contrariamente à visão engessada e essencialista que as sociedades nacionais produzem sobre os povos indígenas e que tem como consequência o olhar etnocêntrico que os exclui.
A poética ameríndia, na voz de Fernanda Vieira, entoa um cântico de renascimento, ativando um processo de autorreconstrução ontológica. A promessa de cura está na reinvenção de si, na capacidade de mobilizar a escrita e a memória para projetar-se como membro de uma coletividade, assumindo a herança do passado no presente, numa experiência que traduz um sentido diverso do tempo linear ocidental. A fruição da experiência dos ancestrais, simbolizada nas imagens finais do poema, funde territorialidade e cosmos, dando visibilidade à voz coletiva que emerge no texto poético: “Nos embaralhamos nas suas tramas e / Compomos o cosmos e o topos / Em uma cosmografia”. Versos magistralmente realizados, nos quais o tratamento da sonoridade poética, valendo-se da similitude fonológica de assonâncias e aliterações, reforça a cadeia de significação do poema, sugerindo as fronteiras fluídas na vivência dos sujeitos.
A perspectiva ontológica do texto poético realiza-se como um ritual de decolonização da subjetividade no qual o sujeito muda de pele. A reapropriação simbólica do outro e da experiência coletiva milenar inaugura uma percepção do tempo em sintonia com os pressupostos fundamentais da cosmologia indígena. A materialidade da escrita impulsiona a imaginação e instaura o lugar de sobrevivência e de resistência do sujeito emancipado, conectando-o com a memória coletiva e com a história, num movimento de atualização da tradição contrário ao do apagamento dos saberes milenares e dos vestígios memoriais, promovido pelos padrões hierarquizantes da ordem da colonialidade do poder.
O poema “Autobiogeografia” é um ato cosmopolítico na medida em que rompe com a visão de mundo única e hegemônica da modernidade ocidental para mobilizar uma outra forma de habitar o cosmos, fazendo emergir uma diferença ontológica característica do pensamento ameríndio, que, segundo Viveiros de Castro, “mobiliza […] toda uma outra imagem de pensamento” (Viveiros de Castro, 2011, p. 6) e expõe a “Alteridade cultural radical”. Desprezando a herança da colonialidade do poder que significa também, como se depreende dos trabalhos de Anibal Quijano, uma colonialidade do saber e do ser (Quijano, 2015), o poema abre espaço para uma outra ordem epistemológica. Reforça, igualmente, no campo literário, o processo de autoidentificação ou de autoreconhecimento de pertencimento identitário étnico e cultural, um dos procedimentos atuais da luta social e política da autoatribuição identitária ao qual recorrem os povos e comunidades tradicionais no Brasil para fazerem valer os seus direitos.
As pistas para captar a essência do significado atribuído ao neologismo “autobiogeografia” são propiciadas pela própria autora, no depoimento da autora, reproduzido anteriormente, no qual ela se refere ao termo como expressão da “noção de escrever e inscrever a si própria nos espaços físicos, sociais, emocionais e espirituais, em novos entendimentos e reposicionamento de si” (Vieira, 2020).
No seu livro A persistência da memória (2018), Zilá Bernd reflete sobre a memória cultural e sua associação à memória geracional para interrogar a questão da transmissão. Apesar de o trecho da obra de Bernd, abaixo transcrito, tratar da reivindicação da herança dos ancestrais no romance memorial, considero que essa perspectiva pode também contribuir para a compreensão da problemática da memória em textos poéticos6.
O romance memorial corresponde à recuperação da memória transgeracional em textos híbridos que contêm aspectos de autoficção, comprometidos, ao mesmo tempo com a anterioridade (relato de vida dos antepassados) e com a interioridade (relatos autobiográficos), permitindo que os narradores-autores – a pretexto de melhor conhecer a vida dos ancestrais – conheçam melhor a si mesmos. (Bernd, 2018, p. 78)
Ancorado na memória geracional que procura se apropriar da herança simbólica do passado para encenar a transmissão transgeracional, o eu lírico do poema “Autobiogeografia” é, na verdade, a um só tempo, herdeiro e porta-voz. O poema estabelece uma relação de afiliação do indivíduo à coletividade. A voz poética fecundada pela ancestralidade reinsere-se na territorialidade ameríndia, gerando uma sociabilidade alternativa, uma vez que o eu, contrariamente à individuação do sujeito ocidental, identifica-se ao coletivo, realizando-se plenamente através da experiência coletiva.
“Autobiogeografia”, de Fernanda Vieira, faz emergir as estruturas profundas da memória subterrânea da vivência dos povos originais, fazendo-a interagir com a contemporaneidade. A poética ameríndia reinveste a memória ancestral, contextualizando o presente e delineando a construção de um legado intergeracional. O texto de Fernanda Vieira é um belo exemplo da prática simbólica de reconstrução de vestígios memoriais para ressignificar o presente. Insere-se no amplo movimento das artes indígenas contemporâneas que procuram através de suas realizações estabelecer conexões com a herança dos ancestrais e promover a reconstrução da subjetividade do sujeito.